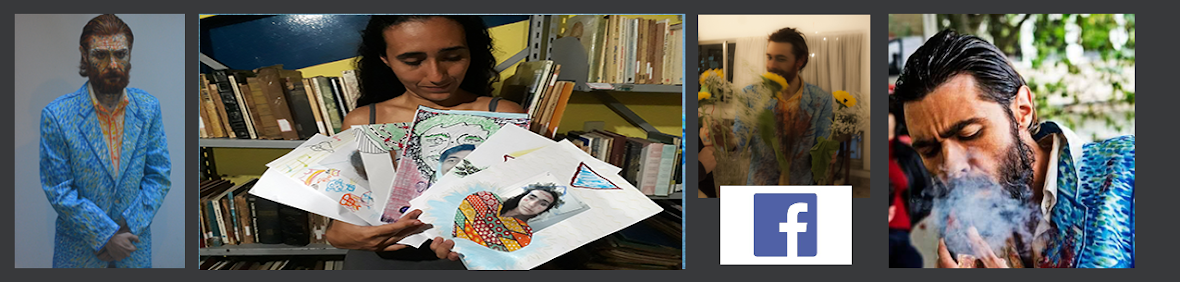CARTA ABERTA DEMÓTICA
Julio de Morales e sua visão assombrosa sobre arte, uma eterna discussão. Política?
 |
| O que se passa na cabeça de um jovem quando contempla a arte? Ninguém sabe, ninguém imagina. Os sentimentos e os pensares são plenos e legítimos. |
A “crítica” recomenda visita a essa ou àquela
exposição, segundo o grau de importância prescrito pela escala subjetiva.
Intriga observar que só recomenda as “grandes”, e isso de duas maneiras, elogiando
ou depreciando; em ambos os casos, o convite é feito, atendendo à expectativa
de mencionar o que deve ser visto, mesmo quando são assinaladas as
deficiências. O cumprimento dessa subserviência planejada subestima a
necessidade de dedicar algumas linhas ao que, sem deficiências gritantes,
merece atenção e análise. O termo “grandes“, aqui, remete às mostras endossadas
por instâncias notórias (as bienais, as documentas, por exemplo) capazes de
decidir o futuro profissional da crítica – e a sua sobrevivência (leia-se
adaptação servil) estará garantida na medida em que souber satisfazer as
pressões locais de onde recolhe referências e indicações para ajustar seus
interesses infinitesimais, que gravitam bem abaixo da órbita das motivações
explicitas.
É verdade, nos dias de hoje já não
associamos mais a “crítica” à iniciativa pretensiosa de desenvolver um ofício
neutro, incumbido de uma missão inequivocamente séria, pondo em ação atributos
intelectuais avantajados e um acervo de informações relevantes em condições de avaliar
criteriosamente o alcance, a contribuição e os limites das obras de arte e
das intenções dos seus autores. A “crítica”, para qualquer um que ainda associa
essa palavra ao mundo artístico, é o promoter disponível, estimulador de
artistas e instituições, apresentador midiático, carregando um discurso
articulado, algum conhecimento de história da arte (história criada por outros promoters,
economicamente mais fortes, que não podem ser simplesmente desmentidos
por terem já consolidado sua posição, o que faz do seu prestígio uma refutação
conclusiva a todo questionamento periférico – não deixa de ser curioso observar
que são basicamente dois os requisitos imprescindíveis para essa superioridade:
uma produção contínua carregada de informações extensas (não necessariamente
precisas e inquestionáveis por resultarem de interpretações) e a habilidade
para nos fazer acreditar que a canonização de um ou outro artista se deve à
evidência do talento e não às estratégias dos interesses em jogo) e uma
poderosa, mas evasiva, influência. Uma influência bizarra, é verdade; bizarra
porque, sem precisar acreditar no que declara, acredita na relevância da sua
posição, na fatalidade da sua contribuição. E muitos artistas (os de
mentalidade precontemporânea, em primeiro lugar) agem em relação à crítica como
se, para acreditar nas qualidades que não têm, precisassem atribuir a alguém,
que consideram por conveniência um intelectual gabaritado, a capacidade de
identificar neles atributos singulares, que o público deve conhecer. De fato,
desde que o discurso moderno se tornou científico passou a ser uma tentação
posar de instância neutra e sabedora, extrartística de preferência,
encarregada da aplicação de critérios apreciativos tão precisos e objetivos
como a descrição de um fenômeno subtômico.
Hoje,
é comum argumentar que não é esse o verdadeiro interesse da “crítica” de arte
ou dos jornais de divulgação, os que são dela o estacionamento privativo.
Declara-se que há muito tempo seu objetivo é formular não um parecer neutro e
científico, mas um julgamento circunstancial, filosófico e interessado. Mas,
ora, se é assim, endossa-se o papel da “crítica” na reserva de pauta de
exposições (espaços privados e públicos, hoje, exigem que a “curadoria” – outro nome da “crítica” –
subscreva a proposta de exibição), na indicação das mostras valiosas e, enfim,
– o que é mais obsceno – na confirmação do valor dos “monstros
sagrados“,
mascarando cuidadosamente os mecanismos de seleção e promoção viciados, que forjam
os “talentos”. Habitualmente se diz que as grandes mostras patrocinadas por
instituições vultosas lançam modas periodicamente. Qual a razão disso? O
“repórter especializado” (outro nome da “crítica”) foi testemunha ocular de uma
idéia ou desempenho espetacular, que a sua inegável experiência no assunto
considerou paradigmático? É tolice tentar deixar de mencionar a operosa malha
de influência que esses personagens intrartísticos teceram para melhor
impor a orientação estética, política que leva sua marca. Uma boa prova disso é
a moda das instalações. Quem já presenciou um “repórter-crítico” assinalando
que as instalações já existem desde a Antiguidade, como, diga-se de passagem, toda a arte
moderna? De fato, a arte moderna foi um inacreditável retorno à arte primitiva,
segundo o dogma (que o Dadaísmo transformou em ações concretas) da infantilização
das intenções artísticas [ao lado da debochada imbecilização do público, ditada
pelo niilismo intelectual, estupenda força reacionária que procurou, por razões
românticas – e ainda procura – fazer do mundo artístico o “mundo paralelo” (o
mundo-asilo de Huymans, o mundo-ilha de Crusoé, o mundo-origem de Nietzsche, o
mundo-símbolo de Mallarmé, o mundo-selva do Dada) avesso ao público (daí o
pânico da vulgarização) e de costas para o artificialismo da sociedade
industrial – atitude que deixou à vista as prerrogativas da mística naturalista
que animou esse retorno à vida primordial: abandono dos ditames cifrados da
arte “acadêmica” (termo amplamente usado pelos modernistas para depreciar uma
arte que se ocupava da “beleza artificial” – como se conceber uma beleza
natural não fosse um ato artificial !)] em busca de uma vida mais autêntica,
provavelmente como a arte adâmica ancestral, tão pura e espontânea como a das
cavernas de Monte Alegre e de Cosquet. Abandono, portanto, do mundo moderno, do
capitalismo e da cultura tecnológica. Não seria escandaloso dizer que, sendo
assim, os modernistas foram tudo menos modernos. E por que ainda hoje são
tomados como inventores sofisticados, como libertadores da arte? Estratégia do
consenso? Mesmo contra a obviedade das provas em contrário? Isso nos faz pensar
que, se a suposta experiência da “crítica”, do “repórter-crítico” teve nesse
contexto alguma utilidade, foi justamente a de encobrir à força de
prestidigitações corriqueiras a verdadeira natureza da “revolução” modernista,
ou seja, o fato de ser uma obscura e hermética contra-revolução, um golpe
naturalista no edifício artificial da cultura “acadêmica”. Ora, nada é mais artificial
do que a cultura metacontemporânea, cultura das imagens ilusórias e
perfeccionistas, por isso estamos – os que se sentem comprometidos com o tempo
presente – muito mais próximos dos acadêmicos, do virtuosismo, das suas ilusões
de ótica do que do realismo infantil dos modernistas. Somos artificiais num
mundo artificial, onde a pureza das crianças (para a grande decepção do Dada)
se revela bem melhor como a esperteza do perverso polimorfo.
 |
| Quando amor e desejo se tornam arte... |
 |
| As vezes, mergulhar no conceito é necessário para arejar a percepção. |
Quem já presenciou um “comentador”
de exposições declarar que os objetos artísticos achados ou elaborados são a
primeira invenção das hordas primitivas? É inegável que, assim como os
românticos herméticos os tomam como pretextos para mobilização das forças
irracionais, os humanos ancestrais os utilizavam como símbolos de um poder
sobrenatural. Nada é mais antigos que os “objetos” artísticos; disso são
exemplos as peças arcaicas da arte etrusca, egípcia e brasileira. Argumentar
que tinham prioritariamente função religiosa nem retira delas o caráter de obras
que encarnam a beleza regulamentar, nem garante inequivocamente aos objetos
artísticos modernistas o título de artefatos inéditos. ?E, quanto às
instalações? Entrar na construção artística, como se fez num castelo medieval
muito mais adornado do que caixas minimalistas, interagir com a obra de arte
como o guerreiro manuseava sua espada ricamente enfeitada, devorar uma peça
artística como era comido um jantar renascentista ou um simples pão, e, enfim,
se revestir com obra, como desde tempos imemoriais se faz com a indumentária,
são atos realmente inéditos? É com essa palavra que se justifica
insistentemente a necessidade da arte de hoje ser feita desse modo,
predominantemente, como um imperativo irrecorrível. Tudo que não tolera esse
enquadramento é de pronto considerado ultrapassado, tradicional,
unilateralmente. Mas, há algo mais tradicional do que o que tem a idade da
História e da Pré-História? O ato de costurar um vestido velho e expor na
parede da galeria de um amigo com amplo trânsito na imprensa constitui uma
inovação? E expor um quadro pintado com zelo virtuosístico não? Ora,
representar a realidade com preocupações miméticas é tão arcaico quanto
produzir uma indumentária ou uma arma sem o intuito de replicar o mundo
objetivo, a não ser que se pense que uma pedra lascada ou tanga de pele imita o
mundo exterior. Não assusta nem surpreende que a perspicácia “crítica” possa
ser posta a serviço do simplismo ou da enganação, porque só a esse título ela
pode se arvorar metacontemporânea, isto é, artificial e ilusória.
Surpreende a sinistra e prosaica facilidade com que sua propaganda forja
prosélitos interessados em cultivar o que a torna francamente incompatível com
a mentalidade metacontemporânea: seu programa antidemocrático.
 |
| O que se pode dizer sobre a legitimidade da arte? Só o ato criativo nos justifica, a obra já não importa mais. Será? |
Nada a opor à moda das instalações.
Modismos são desejáveis, dinamizam e, sem bem conduzidos pelo bom senso liberal
(o que deve ser um escândalo no mundo da arte, que tem muito mais apreço pelas
paixões totalitárias e obscurantistas), fortalecem o interesse pela produção cultural.
O retorno delas – após terem sido eclipsadas por muito tempo pela pintura – ou ainda, sua proliferação
(uma vez que sempre existiram, mas em pequeno número – veja-se o caso dos
biombos chineses e o das urnas funerárias tapajônicas) veio enriquecer mais
ainda a pletora da produção artística atual, onde se destacam esculturas
móveis, pintura experimental e teleológica (ao lado da pintura experimentalista
e aleatória), a arquitetura poliforme, a gravura digitalizada, a culinária
global, a medicina plástico-molecular etc. Mas, falar da “espacialização na
arte”, fenômeno de expansão e de ocupação observado na arte em todos os tempos
(a arquitetura, a decoração, a arte do mobiliário, a macropintura, a arte
mortuária, a escultura gigante), é mais do que uma pobre falácia, é um forte
indicador de como se tornam coletivas as palavras de ordem dos modismos
programados, os modos de pensar unidimensionais (mas, afinal, não são
justamente os artistas que mais protestam contra a obsolescência programada,
imposta pelo capitalismo selvagem, desumano e excludente?). Esses modos
unificados emergem a partir de consensos informais, imediatamente consagrados
por programas culturais clonados, que se multiplicam com incomparável rapidez e
se tornam hegemônicos com a colaboração
das forças que atuam nos bastidores. Tais forças – alguns artistas
investidos de funções administrativas (artistas, é bem verdade, não deveriam
fazer parte de bancas examinadoras a apreciar trabalhos de outros artistas,
posto que são concorrentes capazes de formar cartéis contra os não alinhados às
suas propostas estéticas e políticas), pesquisadores de arte (isto é,
gente “do meio”) e “críticos” (titulares de colunas jornalísticas) – são
responsáveis pelos procedimentos de inclusão e exclusão, modelando furtivamente
as condições de promoção das “personalidades” ou idéias preferenciais e
condenando à categoria de coisas antigas – de peças obsoletas, de idéia
tradicional – tudo que foi arbitrariamente vetado pela “nova” ortodoxia. Mesmo
aqueles que aprovam como inevitáveis os modismos avulsos não têm nenhum
argumento em condições de camuflar o dirigismo que insiste em configurar
o mapa das biografias relevantes em arte ao preço da excomunhão das vozes
dissidentes. O circuito artístico permanece ancorado nos consórcios
supostamente esclarecidos que favorecem os protegidos em detrimento dos
sem-cobertura, cumprindo cinicamente a fórmula bíblica pela qual “Muitos serão
chamados, mas poucos serão escolhidos” (a versão mais recente dessa fórmula
neoaristocrática se refere ao misterioso caso da compra de obras de artistas
“consagrados” por parte de um renomado instituto público com a intenção de
“ajudar” a incrementar o mercado e “formar acervo”. Ora, quem fez a lista de
“eleitos”? Houve concorrência, licitação? Não deve haver para essa modalidade
de aquisição? E, se um agente público decidir comprar pias sanitárias, terá de
fazer licitação? E pias sanitárias não são objetos artísticos?). Uma verdadeira
traição às aspirações daqueles que engrossaram a promessa de uso público dos
espaços públicos, financiados com recursos fiscais e administrados pelas
ordenanças de partidos políticos com compromissos coletivos declarados. O juízo
de valor é subjetivo, todos sabem, e juízos de valor de um staff de
déspotas esclarecidos só aumentam seu coeficiente de arbitrariedade.
A ação autoritária não diminui se distribuída, apenas recrudesce, ampliando seu poder de cooptação e seduzindo segmentos da sociedade que deveriam estar interessados na denúncia incondicional de procedimentos injustificáveis (talvez por isso o melhor slogan não seja tanto “liberdade de imprensa”, mas liberdade na imprensa, com o direito de réplica, de denúncia independente, de contestação desfechada por quem não dispõe de grande poder relacional, isto é, não é “do meio”). Formar comissões “imparciais” para, no âmbito de instituições públicas, militarem em prol de “pesquisas em sintonia com a produção contemporânea nacional e internacional” é uma postura ardilosa contra a liberdade de expressão. É provavelmente por isso que algum tipo de ingerência particular, tendenciosa e direcionada – com suas decisões tomadas, seu sucesso comprovado – vem se instalar, justamente ali onde sua participação é, por princípio – sobretudo no que se refere à nomeação dos “protegidos” – definitivamente dispensável. Recorrer, por outro lado, à legitimação pelo discurso enciclopédico com feitio forçadamente técnico, fornece apenas um arremate intelectual ao descaramento da discriminação, da seleção subjetiva, corporativa, com ares de escolha séria e rigorosa. Se para a grandeza da cultura artística local é necessário encomendar dos “especialistas” em redigir prefácios e biografias intelectuais a apologia de alguns afiliados “talentosos”, de alguns apadrinhados notórios (?isso não representa o equivalente artístico do nepotismo político?), então chegou a hora de dirigir contra o mundo das artes a delação sistemática (outros diriam o “estranhamento”, um procedimento que nenhum filósofo jamais tomou para perscrutar, com pinças dialéticas ou genealógicas ou mesmo arqueológicas, os arcanos nada metafísicos do mundo artístico) que desde o início do século XX todo bom revolucionário romântico (miseravelmente em busca da utópica autenticidade) dirigiu às demais manifestações de poder – e que, por mais cômico que pareça, ajudou a criar (ou recompor ?) essa cultura do compadrio, que impera com extrema parcialidade em todas as zonas do circuito artístico. Agora, é justo que ela prove do veneno com que, obtusa e extremófila, aniquilou seus antecessores. Vale considerar esse cenário com um pouco mais de atenção.
A ação autoritária não diminui se distribuída, apenas recrudesce, ampliando seu poder de cooptação e seduzindo segmentos da sociedade que deveriam estar interessados na denúncia incondicional de procedimentos injustificáveis (talvez por isso o melhor slogan não seja tanto “liberdade de imprensa”, mas liberdade na imprensa, com o direito de réplica, de denúncia independente, de contestação desfechada por quem não dispõe de grande poder relacional, isto é, não é “do meio”). Formar comissões “imparciais” para, no âmbito de instituições públicas, militarem em prol de “pesquisas em sintonia com a produção contemporânea nacional e internacional” é uma postura ardilosa contra a liberdade de expressão. É provavelmente por isso que algum tipo de ingerência particular, tendenciosa e direcionada – com suas decisões tomadas, seu sucesso comprovado – vem se instalar, justamente ali onde sua participação é, por princípio – sobretudo no que se refere à nomeação dos “protegidos” – definitivamente dispensável. Recorrer, por outro lado, à legitimação pelo discurso enciclopédico com feitio forçadamente técnico, fornece apenas um arremate intelectual ao descaramento da discriminação, da seleção subjetiva, corporativa, com ares de escolha séria e rigorosa. Se para a grandeza da cultura artística local é necessário encomendar dos “especialistas” em redigir prefácios e biografias intelectuais a apologia de alguns afiliados “talentosos”, de alguns apadrinhados notórios (?isso não representa o equivalente artístico do nepotismo político?), então chegou a hora de dirigir contra o mundo das artes a delação sistemática (outros diriam o “estranhamento”, um procedimento que nenhum filósofo jamais tomou para perscrutar, com pinças dialéticas ou genealógicas ou mesmo arqueológicas, os arcanos nada metafísicos do mundo artístico) que desde o início do século XX todo bom revolucionário romântico (miseravelmente em busca da utópica autenticidade) dirigiu às demais manifestações de poder – e que, por mais cômico que pareça, ajudou a criar (ou recompor ?) essa cultura do compadrio, que impera com extrema parcialidade em todas as zonas do circuito artístico. Agora, é justo que ela prove do veneno com que, obtusa e extremófila, aniquilou seus antecessores. Vale considerar esse cenário com um pouco mais de atenção.
 |
| Estamos vendo ou estamos sendo vistos? Neste caso, quem nos olha? |
Em primeiro lugar, nunca houve por
parte dos precursores das vanguardas modernas o real interesse pelo desmonte da
rede de relações que constitui a infraestrutura amiguista dos espaços
públicos para exibições artísticas. Sua luta envolveu apenas a transposição dos
limites do que se considerava arte, tendo desde então que incluir um conjunto
de produtos “ordinários” próprios das sociedades industrializadas. A luta
girava em torno do que se chamava arte, e não em torno dos mecanismos efetivos
de seleção e promoção, nem sobre a relação promíscua e clandestina dos
interesses privados e espaços públicos. Não há uma única linha escrita pelos
modernistas sobre a influência do poder relacional para o triunfo da sua causa.
Também não há um só comentário dos posmodernos sobre essa mão providencial que
do seu posto de comando define competências (a partir das “evidências” que
distinguem os “inovadores”) e indica o que é atual e relevante, de um lado, e
tradicional e obsoleto, de outro. Aí
está um fato sobre o qual muitos pensam que é melhor se calar. Eis o interdito,
um assunto que treme à menor indiscrição (doravante teremos a oportunidade de
saber se permanecerá intacto sob o assédio da incontinência verbal !). E sequer
é levada a sério a sugestão de que essa inoportuna denúncia pode constituir uma
irreverente operação artística destinada a eviscerar esse velho modelo de promoção em vigor também
nos espaços públicos. Afinal, o que temem os que se aninharam no prestigio da
vida artística com a colaboração de seus amigos influentes? Como ignorar o
temor dos que patrocinam eventos artísticos de inquestionável importância para
a cultura visual e que sabem que por eles grassa uma insuportável injustiça
como condição da sua possibilidade? Injustiça, não em relação a um ou outro
pretendente excluído, mas em relação à necessidade de ser implantada outra
prática de consagração no mundo artístico, que comece pela igualdade de acesso
aos espaços públicos.
 |
| Qual o discurso da arte que realmente interessa? |
 |
| Manu Contemporânea no CCBB - 2014 |
Auto da Compadecida, concepção arrojada, teatro
arejado e ultratual!
Com um pouco mais de cinismo poderiam afixar de antemão, nas suas portas, a palavra RESERVADO. E por aí se vê que estamos diante de um círculo de viciados: artistas “consagrados”, que o “esquema” consagra, o “crítico” com seu poder relacional e os museus públicos com sua reserva compulsória e clandestina. Nada mais antidemocrático, nada mais passível de ser emudecido, de permanecer fora do rol dos assuntos prioritários das filosofias da arte. Mesmo em tempos de crítica arqueológica, esse é o tipo do achado subterrâneo que um cúmplice obstinado faria questão de voltar a enterrar. De fato, a modernidade invadiu o mundo artístico para ampliar o conceito de arte e para jogar fora preocupações estéticas de natureza inferior à sua politização. Fez mais, explodiu o critério de identificação do que era artístico. Mas ficou nisso, na superfície, ato que, por sinal, delata seu limite, indicando que todo seu interesse residia na mera substituição de procedimentos e não na revelação da
 |
| Manu, inquieta... |
Aqui, neste outro mundo, livre dos preconceitos modernistas (livre de uma liberdade subabstrata, mas nunca realmente real), os artistas estarão, quando quiserem, entregues a si mesmos com, digamos o passe livre; dependerão, também se quiserem, da sua própria publicidade; terão de se tornar mestres da autopromoção (e não do conchavo), terão acesso aos espaços públicos por sorteio ou ordem de chegada (e não com base no “prestígio” que a própria instituição, num ato de reconhecimento premeditado, ajudou a fabricar). Esse é a único modo de neutralizar o poder de comitês de seleção interessados em impor preferências que, só para eles, preenchem os requisitos de “sofisticação intelectual” ou “inovação estética”; único modo de estimular o jogo de talentos em competição, o laisser passer. Não é difícil concluir que o intelectualismo em arte teve o mesmo efeito do mitologismo que, no passado, consagrou “gênios” com base na ampla popularidade e não na suposta capacidade de solucionar “intricadas” equações estéticas. Em outras palavras, se foi possível alcançar notoriedade sem precisar posar de executor de façanhas intelectuais, então aí está mais uma forte razão para deixar as possibilidades aflorarem em contextos de livre concorrência, sem a presença de entraves tendenciosos. Em bienais e documentas, “críticos” recrutam seus preferidos (as “bolas da vez”), segundo suas perspectivas e interesses imediatos. Ali, reinam os lobbys, que vão definir tendências. Mas, empregar esse modelo bastardo para gerir o uso dos espaços públicos está muito longe de consubstanciar uma percepção do ambiente metacontemporâneo em todas as sua dimensões. Antes, representa um retorno ao modernismo sectário, um retrocesso. Fomentar, portanto, nesses espaços, o emprego de estratégias de equalização de acesso (sem temer que a igualdade leve à mediania, posto que só nivela condições e não capacidades de invenção), é a grande tarefa dos nossos dias, que terão de ver acontecer tudo - tudo que mais tarde poderá estagnar ou crescer com exuberância.
Julio
de Morales